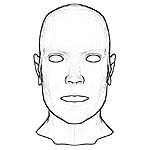Sim ou não ou sim e não?
Marcos Morgado 02/03/06
 Palavras traduzem idéias. Há idéias com as quais desposamos. Há outras que deploramos. Portanto há palavras que gostaríamos ver extintas e outras que preservaríamos. Lutamos por idéias. O que quer dizer que lutamos por palavras.
Palavras traduzem idéias. Há idéias com as quais desposamos. Há outras que deploramos. Portanto há palavras que gostaríamos ver extintas e outras que preservaríamos. Lutamos por idéias. O que quer dizer que lutamos por palavras.
Já há muito desejavam decidir o destino de algumas idéias. Ou de algumas palavras. Há os que encontravam-se fartos da positividade passiva da palavra “sim”. Outros que sonhavam extinguir a intransigência e inflexibilidade da palavra “não”.
Propuseram um concílio. Filólogos, exegetas, etimólogos, poetas, catedráticos, hermeneutas, mestres, ministros religiosos, e mesmo políticos reuniram-se no 1º Simpósio de Extinção de Verbetes onde esperavam defender ou abolir a extinção de duas palavras que imaginavam obstruir a comunicação entre os homens e prejudicar a paz mundial.
Como conciliar usos tão idiossincráticos das duas palavras em expressões tão contraditórias? Como pode o “pois sim” indicar negativa e o “pois não” representar positividade? Era tempo de acabar com tanta ambigüidade.
Uns, com apaixonada locução apoiaram irrestritamente a dissolução do pesaroso e impassivo vocábulo “não”. Provavam ser ele a origem das guerras e pesares da humanidade. Através dele uniões eram desfeitas, matrimônios e enlaces afetivos jamais realizavam-se, patrões evitavam empregados e seus direitos, nações inteiras negavam a seus lideres a execução de suas leis.
Esta tirânica e autoritária palavra deveria sem demora ser suprimida dos dicionários, livros e leis, cartas, receitas e bulas de remédios, e por fim do dia a dia e da vida de todos os indivíduos. As almas dos homens sorveriam enfim a liberdade. Ninguém coibiria seu próximo com tão férrea negação. Estava proposto o fim do não.
Enfurecidos discursos foram pronunciados com o máximo de cuidado, a fim de evitar que dissessem “não”, pondo em risco a argumentação. Sugeriam que se usassem outros advérbios.
Houve uma explosão de recusas. Grupos argumentavam que sem “não” jamais poderíamos cumprir a legis áurea. Como reescrever os Dez Mandamentos, principiados por tão indispensável palavra? A Constituição e as Leis Nacionais teriam de ser adaptadas. Toda legislação perderia sua força. Ainda assim ficaram sem consenso.
A turba foi maior quando postularam a respeito da extinção do “sim”. Com amargos protestos acusaram o positivo monossílabo, condenando-o como vocábulo permissivo e libertário. O afrouxamento materno usufrui da flacidez da palavra a estender limites já tão longos a uma geração desacostumada com proibições e negativas.
Em contrapartida grupos afeitos ao “sim” questionaram a possibilidade do matrimônio na ausência de palavra tão necessária. Como efetivar o enlace sem o definitivo e confirmatório “sim”? A extinção do “sim” poderia promover a extinção da raça humana. Os interrogatórios não teriam seu apoio. Como ficariam os questionários sem a primeira lacuna? Como faríamos para demonstrar consentimento ou permissão?
O pressentido desentendimento aflorou em demonstrações emocionadas a favor de um ou outro monossílabo. Faixas eram brandidas com a frase “Não nunca mais”. Cartazes foram espalhados com o slogan “Diga sim ao não”.
Punhos cerrados esmurravam o ar acompanhados com o coro ritmado da palavra “não”. Os que emitiam um longo e uníssono “sim” levantavam seus polegares aprovadores. Nunca ambas as palavras foram tão pronunciadas. Talvez aí esteja uma das indiscutíveis demonstrações da utilidade de ambas.
Os que presidiam engendraram uma votação, não posta a cabo pela necessidade óbvia de ambas divergentes palavras. Como solucionar o impasse? Quem vencerá a peleja? Morte ao “sim” ou fim do “não”?
Exaustos de utilizarem as mais diversas e profusas palavras em argumento e defesa de apenas duas, os filólogos, exegetas, etimólogos, poetas, catedráticos, hermeneutas, mestres, ministros religiosos, e mesmo políticos, entre ofensas e desagravos chegaram a inquestionável conclusão de que seria impossível viver sem os incômodos, porém necessários monossílabos.
Os punhos negativos transformaram-se em apertos de mão e os polegares positivos em amistosos abraços. Ambas as palavras promoveram a harmonia outrora inexistente e fizeram dos dois grupos divergentes apenas um, que desde então tem lutado pela continuação de duas palavras, que imaginavam obstruir a comunicação entre os homens e prejudicar a paz mundial.